Samuel Fuller (1912-1997)
- Cultura Animi
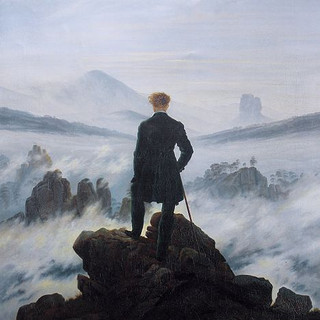
- 23 de jun. de 2025
- 4 min de leitura

“ It’s been said that if you don’t like the Rolling Stones, then you just don’t like rock and roll. By the same token, I think that if you don’t like the films of Sam Fuller, then you just don’t like cinema. Or at least you don’t understand it.”– Martin Scorsese
‘‘Film is like a battleground: love, hate, action, violence, death.’’
– Sam Fuller
Samuel Fuller difere dos outros diretores por ter vivido o equivalente a duas vidas inteiras antes de fazer filmes: uma como repórter criminal e outra como um condecorado herói de guerra.
Ele produziu, escreveu e dirigiu filmes que investigavam como que pertencer a um grupo social funciona simultaneamente para sustentar e nutrir a identidade individual e, inversamente, representar todos os tipos de ameaças emocionais e ideológicas a essa mesma identidade. As personagens de Fuller são apresentadas entre uma solidão que é libertadora e debilitante, e uma comunalidade que é solidária e opressiva – Fuller mostra que nem o isolamento nem a associação ao grupo são isentos de dificuldades e tensões, a vida como um campo de batalha de energias humanas alienadas, todas perseguindo suas obsessões privadas a ponto de exaustão.
Fuller parece querer dizer que todo homem deve ser seu próprio protagonista, e que essa moralidade livre para todos é refletida na arena política maior – ele vi o elemento criminoso constante na vida, seja na sociedade em tempos de paz ou na guerra.
Um mestre em representar a violência, Fuller tem um toque especial com close-ups e longas tomadas. Quase todos seus filmes foram realizados em tempo exíguo e com orçamentos irrisórios, e ainda assim possuem alguns dos traveling shots mais complexos e bem-sucedidos já feitos, tendo influenciado cineastas tão dispares como Jean-Luc Godard, Steven Spielberg, Martin Scorsese, Wim Wenders, and Peter Bogdanovich.
Seguem comentários sobre seus filmes mais marcantes:
The Steel Helmet (1951): Durante a Guerra da Coreia, depois de ser ferido um sargento forte e mal-humorado é resgatado por um jovem órfão sul-coreano. Filmado em somente dez dias, e apenas seis meses após o início das hostilidades, foi o primeiro filme a abordar aquele conflito. O filme marcou a chegada oficial de Samuel Fuller como uma força cinematográfica. Apesar de seu orçamento reduzido, o retrato de soldados da Guerra da Coreia lidando com crises de identidade moral e racial continua sendo uma das representações mais interessantes do diretor sobre os horrores da guerra, bem como um reflexo da irredutível compassividade de Fuller. Notar as passagens onde um soldado americano negro e outro japonês respondem as provocações incendiárias de um prisoneiro norte-coreano.
Pickup on South Street (1953): Batedor de carteiras (interpretado por Richard Widmark) rouba involuntariamente uma mensagem destinada a agentes inimigos e se torna alvo dos comunistas. Uma trama exótica para o gênero noir com inesperados e gratificantes momentos de heroísmo e redenção. Fuller demonstra que até os marginais são melhores que comunistas, e nos relembra que a mulher é a salvação do homem. “A director writes with the camera”, Sam Fuller costumava dizer, e em nenhum lugar isso é mais evidente do que na cena de abertura no metrô de Nova York onde toda a sequência se desenrola sem diálogo. Destaque para a atriz Thelma Ritter como a informante Moe Williams.
Shock Corridor (1963): Na esperança de ganhar um prêmio Pulitzer, jornalista se interna a uma instituição mental na tentativa de desvendar um estranho assassinato. Fuller explora o difícil terreno entre sanidade e loucura enquanto aborda questões sociais em debate nos anos 1960 (racismo, holocausto nuclear e comunismo). A húbris da personagem central acaba por destruí-lo, sua arrogância jornalística prenuncia o problema contemporâneo da mídia ser totalmente corrompida em sua associação com as elites governamentais e financeiras. Notar como Fuller alerta que a destruição do oikos (família, propriedade, lar e comunidade) debilita o homem, rebaixando a presa fácil de ideologias nefastas como o comunismo.
The Naked Kiss (1964): Prostituta reformada muda-se para um bairro convencional determinada a se encaixar na sociedade. Mas segredos perversos fervem sob a superfície saudável. Quintessencial melodrama com toda a sordidez mundana que Fuller aborda em sua obra. A cena de abertura é marcante, assim como a ardente defesa da maternidade e o ataque a dantesca prática do assassinato de nascituros.
The Big Red One (1980): Sargento durão (interpretado por Lee Marvin) e quatro membros de sua unidade de infantaria tentam sobreviver à Segunda Guerra Mundial enfrentado batalha após batalha por toda a Europa. Fuller reflete aqui suas experiências pessoais na II GG de forma episódica: “I wanted to do the story of a survivor,” ele disse na premier em Cannes, “because all war stories are told by survivors.” Realizado com um orçamento limitadíssimo e apesar de alguns momentos brega, o filme ainda vale ser visto como um esforço honesto de apresentar a guerra por alguém que dela participou.
White Dog (1982): Treinador tenta reeducar um cão que foi criado para atacar negros. Como nas fábulas de Esopo e La Fontaine, o herói da parábola de Fuller pode ser um cão, mas o assunto é a raça humana. A estratégia de câmera de close-ups e movimentos subjetivos nos convidam a compartilhar as percepções do cão. Fuller provoca emoção com os repetidos close-ups de olhos ora do animal ora do homem (numa fútil tentativa de compreensão mútua), as repentinas demonstrações de afeto, e no uso de slow-motion para capturar a beleza e a ameaça dos movimentos do cão.


